‘Mas antigamente é quando?’ – Ensaio Palavra-Imagem com Simone Paulino e Guido Guidi
Hoje o Ensaio Palavra-Imagem vem com as palavras de Simone Paulino e as imagens de um tempo suspenso do fotógrafo italiano Guido Guidi. Paulino é escritora, editora e jornalista. Fundou a editora Nós (da qual quase gabaritei todos os livros) e autora de alguns títulos, entre eles o potente “Abraços Negados em Retratos”, que me atravessou há três meses. Guidi, com o olhar apurado da pintura, começou a fotografar nos anos 60 trazendo para suas imagens composições silenciosas e de cores contidas. Tá uma coisa de linda e de aguar os olhos essa edição.
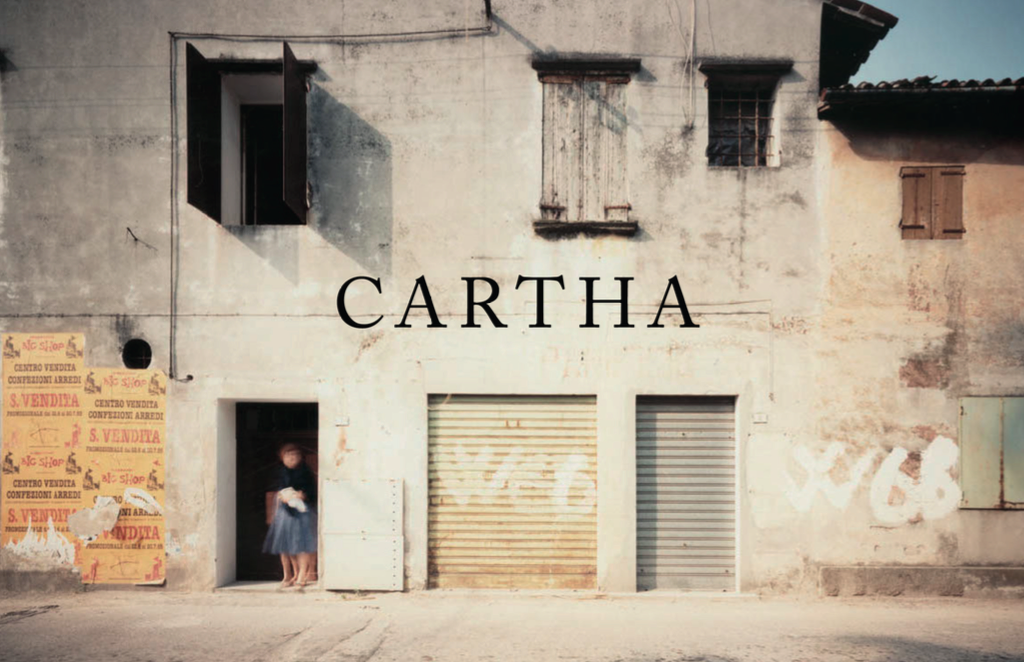
não esquecer que por enquanto não é tempo de cerejas.
eu vou te mostrar com quantas palavras se faz uma canoa, ele disse no meu sonho intranquilo. A água das palavras dele inundando o quarto, como a maré invadindo a Piazza San Marco. Ele boiando na superfície úmida dos meus olhos. A água borrando as letras das páginas do jornal. Os jornais diários deixados à porta, agora imprestáveis, porque as notícias envelheciam antes que eles fossem atirados de longe nos quintais. Jornais que não serviam mais nem para embrulhar peixe como antigamente. No tempo em que as letras se escondiam sob as escamas. Às vezes um peixe vivo rasgando o papel num espasmo, caindo estatelado e se esbatendo no chão.
Mas “antigamente” é quando?
se o tempo descascava nos muros e nas fachadas a cada volta do ponteiro, e tornava impossível precisar a idade das paisagens e das lembranças. Se os meses nos foram roubados, como se arrancados de uma folhinha ordinária pregada na parede de uma construção abandonada numa estrada da qual não se enxerga o fim. Primeiro nos arrancaram Janeiro. Depois Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Quantos meses mais? O ano seguia escorrendo de dentro da ampulheta de vidro quebrado esquecida num canto escuro e a gente tentando reter os grãos de areia do agora entre os cinco dedos de uma mão já decepada.

*
sem presente, nem futuro, só nos restava voltar ao passado. Viver de reminiscências. Visitar as nossas pessoas nos álbuns de fotos. Na vigília e no sono, o passado se infiltrava pelas frestas das janelas e do inconsciente, pulando de um cômodo para outro e atravessando longos corredores de lusco-fusco. As pálpebras se entreabrindo como uma cortina pesada pelo pó do tempo parado. E de repente, ao acordar, nos sentíamos velhos. Velhíssimos. Como se tivéssemos nascido no século passado. E sim, era esse o dado trágico. Ser um ser do século passado. Apegado às estações do ano que não fazem mais nenhum sentido. Falar uma língua que ninguém mais compreende. Espécie de esperanto sem esperança. E ao lembrar de um amor antigo ou de uma casa onde se cresceu, dizer coisas como: “era primavera de 1978” ou “nos mudamos para aquela casa no inverno de 1972”.

*
enquanto a vida… A vida se esvaia, numa sucessão de dias iguais, apenas mais ou menos quentes, mais ou menos frios, mais ou menos secos, mais ou menos úmidos. As estações confusas esmaecendo as fotos e criando um passado contínuo e imperfeito. Já que no agora, encontrar, abraçar e amar se tornara inconjugável. Assim como os verbos de ser, todos, subordinados e subversivos, numa sentença incompreensível. A punição, severíssima. Solidão perpétua. O mundo inteiro preso numa solitária, sem direito a banho de sol ou de chuva. Nem mesmo um toque de mãos entre as grades seria permitido. Uma noite escura e sem fim, onde não fazia diferença se era inverno ou verão, noite ou dia. Um pesadelo do qual ninguém conseguia acordar. A existência reduzida a um prato de comida duas vezes ao dia, passado por entre as grades do condomínio por homens mascarados. E nada de cerejas! Porque não é mais tempo de cerejas compartilhadas em pratos de esmalte como na infância.
Ou então a morte. Irrevogável.
eu ontem comi um cannoli às três horas da madrugada, ela disse com vergonha diabética ao acordar. O açúcar em excesso envolvendo umas memórias involuntárias: As barras das calças boca de sino dos irmãos arrastando no chão de terra durante um baile pré-histórico. A nuvem de poeira levantando a lembrança de quando os discos ficavam pulando no mesmo círculo preto sem mudar de faixa, interrompendo a dança de acasalamento dos jovens. O vinil ondulando sobre o prato gasto de borracha. Na época, comprar uma agulha nova para o toca-discos era um luxo. Então o jeito era soprar a agulha como quem quer amortecer a dor de um machucado ou tirar um cisco do olho. Eles passavam o dedo de leve. O gesto fazia o som do arranhado soar forte, ferindo os tímpanos mais sensíveis. Depois, um pouso leve e então:
Per uno che torna
E ti porta una rosa
Mille si sono scordati di te
sim, porque às vezes se errava o alvo e a agulha entrava direto no corpo da música. Como a flecha atravessando o coração ao meio que eles desenhavam com canivete no corpo das árvores no bosque de eucaliptos a caminho da escola. Era primavera de 1978. Os irmãos eram grandes e fortes. Como puderam, no depois, morrer de forma tão miserável? Sozinhos, pele e osso, entubados em hospitais públicos. As agulhas enterradas no corpo. Nenhuma música tocando. Só o silêncio de uma solidão atroz. E o coração sangrando.

eu queria juntar os ossos dos meus irmãos. Unir de novo a família: pai, mãe, primeiro filho, segundo filho. Mas pobre não tem genealogia. São árvores de galhos precocemente amputados. Quase sempre fica só uma raiz esquecida a sete palmos de algum chão. Eu queria reunir a família em torno da mesma lápide. E perguntar pra eles dois, muitas vezes, como a criança perguntadeira que fui, puxando-os pela barra larga da calça até que me respondessem a contento essa pergunta que me perturba tanto:
Che cos’è?
C’è nell’aria qualcosa di freddo
Che inverno non è
Che cos’è?
Questa sera i bambini per strada
Non giocano più
E por que? Por que vocês ouviam música italiana nos bailes da periferia de São Paulo em 1972? E por que? Por que ninguém dança mais?


